Reverse Warhol
Por certo que, estando algumas das criaturas a perder o bom senso de se manterem nos respectivos redis, tenho a minha quota parte de doubtful and minor celebrities sightings. Todavia, nunca me senti muito confortável a fazer o cerco aos bichos, e das poucas oportunidades em que o terreno era de tal forma favorável que seria uma ofensa ao espírito dos antepassados deixar a presa escapar, senti (punho no peito) uma certa desilusão com a minha mock idolatry, porque a verdade é que o encontro sempre me deixa largamente indiferente, e a exposição mútua (là, nous sommes pareilles) ao desconforto do matching outfit das presumíveis camisas-de-forças interaccionais de ídolo-idólatra torna-se uma pequena concessão abjeccionista à escatologia da fama.
Claro que levanta-se igualmente o problema da porosidade e contingência potencialmente dramática (para os próprios) do que constitui efectivamente uma celebridade. Dificilmente se pode dar crédito aos meus pruridos retóricos da caça à luminária estando a generalidade dos seres algo pensantes a borrifar-se para quem são (eu próprio tive que ir verificar parte dos nomes da unwilling pandilha) Mike Sary, Steve Fuller, Nicolas Masino ou Renate Knaup (e esta ter-me dado um autógrafo fugidio com "love" e o meu nome lá pespegado, quando, pelo fugidio, só esperava uma assinatura para poder vender no e-bay em caso de carência futura, fez-me sentir-nos bastantes conspurcados por uma espécie de mercantilismo emocional - alienação não tão pós-marxiana - com a desvantagem da assepsia); ou tendo eu como trauma por deflagrar, a probabilidade de, tendo sido arrastado em grupo de méconnus do cavalheiro para o assédio pós-concerto, o Odair Assad ter reagido com um mal-contido "Pelo amor de..." ao meu desconfortável salamaleque para assinar o programa (estou certo, porém, que foi apenas um acesso espontâneo de religiosidade); ou, apesar de ter participado na emboscada à boca do palco, a bem-educada relutância do Hammill à adoração tendo propiciado ser um amigo, e não eu, a arranjar-me o autógrafo (num hábil dois-em-um) do cavalheiro num LP; ou também, tendo descoberto que o vinil do "Olho de Fogo" do Janita que comprei num mercado estava autografado para uma A.M., para mais "com um abraço forte do Janita"!, o que me fez novamente lamentar a potencial frivolidade destas sígnicas (presumíveis) afeições; ou, principalmente, desta feita, já não sabendo minimamente a quantas ando. You figure it out.
Portanto, no meu little corner of the world de misantropia ressabiada, a escala Warhol de contabilização de close encounters de mundanos com celebridades, só pode, para minha paz de espírito, ser encarada como uma wanna-be falácia (estou cônscio da contradição) travestida de cosmopolitismo algébrico (razão pela qual vou sobrecompensar continuando a chafurdar-me em ainda mais assorted anglicismos). Abro uma excepção na minha desdenhosa mesquinhez, quando muito, na eventualidade de alguém se poder gabar de ter feito cosquinhas na barba do Herberto Helder.
Agora, the real game, the big game, Hatari-style, if you will, são de facto, o celebrity-reversal e o celebrity-uncovering.
O celebrity-reversal consiste, naturalmente, em tornar-nos o objecto da atenção da celebridade, desconstruindo a falácia da necessária unidireccionalidade desse campo de energias. Para evitar potenciais trágicos na sequência de semelhantes intentonas, obviamente que a reversão tem que estar ancorada nas excentricidades inofensivas do self, não impondo dispositivos coercivos de encarcerar essa atenção, ou será desqualificada por emprego indevido de meios artificiais e improficientes (qualquer forma de imolação, por exemplo, não dá as mínimas garantias e seria, argumento-chave, francamente patético).
Um exemplo clássico da minha mestria nata nesse campeonato, por supuesto mantendo-nos no pressuposto facilistista-faz-de-conta-que-é-desconstrutivista do "que é uma celebridade?", foi ter-me deparado, numa casa de espectáculos (chamemos-lhe assim) enquanto se aguardava o início de um concerto e se ouvia umas tunes, com uma vaga celebridade parcialmente blogosférica, com a mal-disfarçada volúpia incrédula de quem descobre em outrém um objecto de ridículo superior, especada em mim, após este vosso ter terminado no seu cantinho um intimate albeit somewhat public playback sonoro do «Pleasant Street» (com o falsete e as oitavas todas espremidinhas). Mas tende calma; ainda que este cenário ameace tornar atractiva a hipótese da imolação, o seu poder é precisamente o de sinalizar no corpo, mimeticamente, o quanto a substância da fama, particularmente nos escalões mais rebarbativos, não se encontra necessariamente geminada com qualquer forma de talento, e que realmente, não se discerne, ao assistir novamente ao "Silence of the Lambs", que constitua feito distintamente assinalável o Anthony Hopkins passar um filme inteiro a imitar um furão.
Já o celebrity-uncovering, emana a sua recompensa, no registo são e maduro de auto-confiança (do predador) e liberdade pessoal (da presa), da incorporação de uma familiaridade desinteressada com o objecto de atenção que permite, em condições ominosas, sermos atingidos pela epifania da sua identidade secreta, e deixá-la seguir anonimamente o seu caminho (como quem caça sem balas no rifle, mas na verdade não caça, apenas se depara com a presa, e por acaso tem o bacamarte à mão, mas não é gente belicosa) - obviamente, na disposição perfeitamente oposta ao jeito pueril que desconhece as fronteiras do obsceno, epitomizado na triste caça fotográfica ao recôndito Pynchon, comentada, por razões óbvias não direi exactamente onde, mas algures por, onde mais?, aqui, em jeito de expiação colectivizada pelo leitorado cusco, caçada essa que ironicamente acabou por trazer antes o Stephen King, que é como quem diz o Lou Reed, de volta para o acampamento, o que tornaria simbolicamente a Pynchon-Cale connection um campo de especulação existencial de proporções comprovadamente inapreensíveis pela patética semiótica da money-shot).
O caso mais recente que me ocorreu nesta modalidade, curiosamente, foi avistar um sujeito de chapéu de coco a admoestar o gerente da fnac do Chiado pelo facto incompreensível (indeed) de não terem uma edição em vinil 180 gramas da obra-prima proto-punk-prog dos Happy Guillotineros; a oferecer os seus préstimos na Bertrand para traduzir o «Against the Day», a preço de custo(?), em semana e meia (e não era o Miguel Serras Pereira), para "colmatar essa chaga purulenta, no já de si macilento - saggy, na verdade, poupo-vos à metáfora original - panorama da edição portuguesa"; e a dar um bacalhau ao Rui Veloso no pub O'Gillin's, desabafando, enquanto meneava a cabeça, "somehow, it's not the same..." (embora ao chegar a mince pie à mesa se lhe tenha ouvido, em suspiro de alento, "closer...").
Entretanto o Herberto que se ponha a pau, e a farfalhice a jeito: he's coming next...

 ...
...



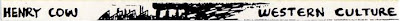 Narrativa musical da decadência histórica de um entendimento dessa coisa chamada modernidade, “Western Culture” (1978) encena uma peça de câmara do lento descambar que os totalitarismos vários habitando esse pináculo prometido de progresso vão nos seus dilacerantes espasmos arrastando (conferir a arte de capa, de Cutler, e os títulos das composições). Para desalmado espanto, fugindo a qualquer mecanismo programático para bombear o negrume, o disco vai desenhando uma viagem através dos escombros dos aquéns terrestres com desesperante clareza imagética, carregando ao pormenor no bojo das notas, paisagens, utopias e desenganos, emoções e arroubos, tingidos cada vez mais pelas nuvens de desalento desvalido que inscrevemos na história colectiva e juncam a jangada que se prometera conduzir por luminoso progresso. É uma obra que ainda soa a requiem civilizacional sufocado na poeira e sombras de construtos derribados de pós-guerra (prelúdio e fuga para “Germania Anno Zero” de Rossellini?), como já soavam os encontros dos Henry Cow com os Slapp Happy (estes com a distracção macerada de cabaret), mas já não ancorado na sua mnemótica sonora distintiva, antes no sentido de falência moral colectiva, sem nervo sequer para a incredulidade. Nesse cenário imagético da história mais recente que se gostaria (no reacender cíclico dos seus fantasmas), discorrem hinos nado-mortos, elegias inacabadas, recortes arruinados de abrigos humanos, lamentos e iras calados em compassos catatónicos, descabeladas marchas para nenhures só para manter as incertas promessas genésicas do movimento e inquietação. Numa arritmia decadente (em certo sentido, como se dissera de Schöenberg), a guitarra de Frith derrama ácido (de baterias), a bateria de Cutler já letárgica ainda martela e estilhaça em espasmos irregulares de maquinaria falida os restos de uma civilização (nada de fascínio industrial aqui), os sopros e teclados de Lindsay Cooper e Tim Hodgkinson dispensam réstias de desencanto (memória, dissipada, dos encantos) e estrebucham o estertor de povos iludidos por estandartes futuristas e promessas rio acima, que se descobrem fora d’água.
Narrativa musical da decadência histórica de um entendimento dessa coisa chamada modernidade, “Western Culture” (1978) encena uma peça de câmara do lento descambar que os totalitarismos vários habitando esse pináculo prometido de progresso vão nos seus dilacerantes espasmos arrastando (conferir a arte de capa, de Cutler, e os títulos das composições). Para desalmado espanto, fugindo a qualquer mecanismo programático para bombear o negrume, o disco vai desenhando uma viagem através dos escombros dos aquéns terrestres com desesperante clareza imagética, carregando ao pormenor no bojo das notas, paisagens, utopias e desenganos, emoções e arroubos, tingidos cada vez mais pelas nuvens de desalento desvalido que inscrevemos na história colectiva e juncam a jangada que se prometera conduzir por luminoso progresso. É uma obra que ainda soa a requiem civilizacional sufocado na poeira e sombras de construtos derribados de pós-guerra (prelúdio e fuga para “Germania Anno Zero” de Rossellini?), como já soavam os encontros dos Henry Cow com os Slapp Happy (estes com a distracção macerada de cabaret), mas já não ancorado na sua mnemótica sonora distintiva, antes no sentido de falência moral colectiva, sem nervo sequer para a incredulidade. Nesse cenário imagético da história mais recente que se gostaria (no reacender cíclico dos seus fantasmas), discorrem hinos nado-mortos, elegias inacabadas, recortes arruinados de abrigos humanos, lamentos e iras calados em compassos catatónicos, descabeladas marchas para nenhures só para manter as incertas promessas genésicas do movimento e inquietação. Numa arritmia decadente (em certo sentido, como se dissera de Schöenberg), a guitarra de Frith derrama ácido (de baterias), a bateria de Cutler já letárgica ainda martela e estilhaça em espasmos irregulares de maquinaria falida os restos de uma civilização (nada de fascínio industrial aqui), os sopros e teclados de Lindsay Cooper e Tim Hodgkinson dispensam réstias de desencanto (memória, dissipada, dos encantos) e estrebucham o estertor de povos iludidos por estandartes futuristas e promessas rio acima, que se descobrem fora d’água.
