Ora...
...porra.
(queriam o quê? Vai-se o lexicógrafo, depaupera-se a elucubração...)
(I'd do it all over again but I'd rather not)
...porra.
(queriam o quê? Vai-se o lexicógrafo, depaupera-se a elucubração...)
Etiquetas: interblogging... such a sad ménage
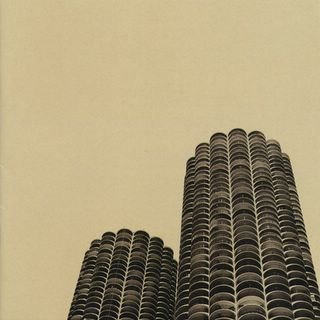 «I want a good life
with a nose for things
a fresh wind and bright sky
to enjoy my suffering
a hole without key
if I break my tongue
speaking of tomorrow
how will it ever come
all my lies are always wishes
I know I would die
if I could come back new»
«I want a good life
with a nose for things
a fresh wind and bright sky
to enjoy my suffering
a hole without key
if I break my tongue
speaking of tomorrow
how will it ever come
all my lies are always wishes
I know I would die
if I could come back new»
Etiquetas: grafonola e ecos
Apanhei uma série que desconhecia na televisão, aparentemente sobre uma equipa de profilers ou assim do FBI ou assim. Dois momentos cativaram a minha atenção.
Primeiro, o jovem wizz da equipa vai enunciando os autores das citações que dois membros seniores trocam entre si em duelo aforístico: identifica a primeira «Beckett», identifica a segunda «Yoda». Sintomático, mas delicioso.
Segundo, na cena final (inconclusa, como é de cartilha), vemos um plano preenchido a meio pela face do agente de meia-idade meio perturbado (personagem-tipo, claro, apelativo nonetheless - sou muito pavloviano) a sair da loja de uma bomba de gasolina de estrada, cenário semi-ominoso de América rural (aquele eco vago de Texas Chainsaw Massacre ou, enfim, Psycho), a dirigir-se para o automóvel, e no lado direito da imagem vê-se avançar por trás do agente o adolescente vagamente suspeito (naquele cenário) que o tinha atendido, engatilhando uma carabina (do que o agente se apercebe no último segundo pelo reflexo no automóvel, corte de plano final), e ao mesmo passo visual (that's the point) o infernal «Rock Music» dos Pixies começa a ouvir-se em crescendo.
Estou preocupado: a menos que a série consiga ser devidamente miserável, estes pormenores epidérmicos costumam ser desculpa suficiente para the beginning of a beautiful dependency.
Etiquetas: cinematógrafo e miragens
(pois, ainda o 25 de Abril)
Serviço Público (não meu, claro) - apanhado de posts
Aqui, um oportuno work in progress de recolecção de posts sobre este 25 de Abril, a providenciar um mosaico blogosférico de sensibilidades e ponderações (que não explorei ainda convenientemente), configurando um documento compósito interessante para a avaliação da agonística apreensão e discussão da data, da história que comporta e dos diversos simbolismos (e seus fechamentos políticos) que se lhe agregaram ao longo de 32 anos. A consultar, agora ou mais tarde.
(atenção ao recolector: há uns links que não funcionam)
Etiquetas: à boleia
(ainda a propósito de 25 de Abril)
Serviço Público (não meu, claro): «FMI»-José Mário Branco
Aqui (que é como um link diz "ali"), têm disponível para consumo  público um documento (transcrição do texto e, mui importante, ficheiro áudio no elenco do leitor de mp3 no canto superior direito: busquem lá o ficheiro, que não está à mão de semear) imprescindível para apreender epidermicamente a ressaca pós-revolucionária do 25 de Abril. Apanhado espasmódico e voraz de diversas propostas estéticas e expressivas que se agudizaram no pós-25 de Abril com a politização e consciencialização extrema do significado do gesto estético-expressivo (a incorporar sempre a ponderação do seu efeito social, que os produtos culturais do PREC tendem a exibir de forma clara), o "FMI" do José Mário Branco configura-se como um experimento perfeitamente reconhecível na datação os seus termos compósitos (dos quais configura quase como súmula centrípeta e centrífuga - assim não tenho que saber qual é qual...), mas irrepetível na sua configuração (e quase na sua divulgação: editado em 1982 em maxi-single a prometer auto-destruir-se em 5 segundos, só recentemente foi reeditado no também mais compósito álbum da sua discografia «Ser Solit/dário»), que por efeito histórico translúcido nos devolve um certo ressentir político marcante ainda hoje das leituras e posicionamentos que se digladiam em torno de uma data histórica e da sua conotação política (e possibilitam que actos simbólicos como cravos na lapela sejam apropriados como formas de afirmação ou dissensão políticas).
público um documento (transcrição do texto e, mui importante, ficheiro áudio no elenco do leitor de mp3 no canto superior direito: busquem lá o ficheiro, que não está à mão de semear) imprescindível para apreender epidermicamente a ressaca pós-revolucionária do 25 de Abril. Apanhado espasmódico e voraz de diversas propostas estéticas e expressivas que se agudizaram no pós-25 de Abril com a politização e consciencialização extrema do significado do gesto estético-expressivo (a incorporar sempre a ponderação do seu efeito social, que os produtos culturais do PREC tendem a exibir de forma clara), o "FMI" do José Mário Branco configura-se como um experimento perfeitamente reconhecível na datação os seus termos compósitos (dos quais configura quase como súmula centrípeta e centrífuga - assim não tenho que saber qual é qual...), mas irrepetível na sua configuração (e quase na sua divulgação: editado em 1982 em maxi-single a prometer auto-destruir-se em 5 segundos, só recentemente foi reeditado no também mais compósito álbum da sua discografia «Ser Solit/dário»), que por efeito histórico translúcido nos devolve um certo ressentir político marcante ainda hoje das leituras e posicionamentos que se digladiam em torno de uma data histórica e da sua conotação política (e possibilitam que actos simbólicos como cravos na lapela sejam apropriados como formas de afirmação ou dissensão políticas).
Música popular decomposta e recomposta (como boa parte da sua obra buscou, a espaços forçadamente, fazer, aqui enunciando a combinatória «pop chula» - «chula» enquanto "forma" musical tradicional, bem entendido), stream of consciousness, emanações de experiências teatrais (arte fundamentalmente politizada à data, de onde havia José Mário Branco derivado a sua obra-prima, em contrastante depuração formal), confessionalismo visceral e encenado (pode haver quem chamasse à apresentação do FMI um happening), lirismo, spoken word, proto-abjeccionismo(?), formalismo da desagregação(?!) (imprecação, interpelação e provocação, no teste da dissolução-manutenção da situação enunciativa), num jacto esgotante de discurso político subjectivado e objectificante, com este FMI José Mário Branco rompeu com, e extremou (contraditório, pois claro), convenções estéticas para reflectir visceralmente a singularidade vivencial de uma conjuntura social, da qual se ressalta já na plena amargura o sentimento de fatal impotência no gesto.
Não é bonito (por assim dizer), é fundamental.
(porque se fez questão no gesto da transcrição - não comparei com outras - acople-se o registo da minha razoavelmente atenta audição e leitura paralelas, onde apenas se denota que lá para o meio há pelo menos uma série de "pá"'s que não estão transcritos. Como é até, se não me engano, uma sequência deles na mesma frase, regurgitados uns após outros, terá a sua relevância expressiva particular, pelo que fica a anotação. E, já agora (esperando não me desvelar grunho), porquê sem hífens?)
Etiquetas: à boleia, grafonola e ecos
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
25-de-Abril-só-de-vez-em-quando!
A produtividade deste exercício é tentar fazer-me finalmente perceber na pele qual o estímulo central para a propagação absolutamente anti-malthusiana, pelo espaço público afora, de provocadores em voluntarioso registo de estrepitoso simbolismo dito (e/ou pretendido) reaccionário, em cruzada volvida bem-pensante (com novas auto-nomenclaturas e discipulados teóricos - como os velhos marxistas) e com pretensões heterodoxas, contra um suposto establishment progressista (a política é contradição). Acho que já percebi uma fundamental justificação da coisa: é que isto é divertido!
Etiquetas: à boleia
Por causa da euforia (oui, j'exagére, malgré-moi) das comemorações do 25 de Abril (naquela piccola perversidade incauta de subsumir as datas celebratórias feitas festa e feriado nas suas vésperas) esqueci-me por completo da emissão do primeiro episódio da última série dos Sete Palmos de Terra na 2 (sim, este mono que vos escreve ainda não compra séries em DVD - viva o serviço público!).
Estarei legitimado para arguir que paguei um pequeno preço pessoal pela Revolução de Abril? 
Etiquetas: à boleia
Esqueçam a zoofilia, esqueçam o fistfucking, a cópia de segurança da Barbarella e os CDs refundidos Best of Samantha Fox e os últimos dos Madredeus.
Esqueçam o cross-dressing, o esquentamento e a cara da farmacêutica, comprar o DN pelas crónicas do João César das Neves e a secção de classificados Relax (com uma flagelação penitente no entrementes), dar tampas pelo telefone, escavar digitalmente com sistematicidade as cavidades nasais e invectivar contra o Abrupto Pacheco em caixas de comentários.
O anonimato nos blogues foi feito para confessar coisas como esta: no desespero das 5 da manhã, eu assisti na TVI a episódios d’«As Feiticeiras».
Etiquetas: à bolina
Semiologia à queima-roupa (2)
Quando é efectivamente descritivo do alvo em questão, o apodo "elitista de merda" não resulta insultoso mas sim como lisonja.
Etiquetas: semiologia à queima-roupa
(self-deprecating over self-deprecation)
Não se pode parabenizar?...
...Porque é uma porcaria? But I like it...
Portanto, das duas umas: ou se está dizendo que eu estou ao nível da porcaria, ou se está dizendo que a porcaria está ao meu nível. O que seriam coisas completamente diferentes, se eu não fosse quem sou. Na equanimidade dos termos brutos da enunciação, portanto, será melhor que avance outra criatura para não deixar impune o desrespeito pelo leitor derivado desses self-deprecating efforts, e lhe apostem os devidos parabéns no facies. Porque, convenhamos (creio que poderia ter sido o meu único legado para o mundo), até a auto-depreciação/comiseração tem regras de verosimilhança e etiqueta.
Adenda: LMO já publicou dois ou três posts razoavelmente equivalentes (não falamos em critérios de qualidade) a posts que eu tinha engendrados nos meus drafts para uso num dia acéfalo de qualquer estação. Aproveito para deixar o aviso que tenciono deixar decair no olvido essa precedência e cometer hetero-auto-plágio (as Couves e Alforrecas© da Margarida Rebelo Pinto© são brincadeiras de crianças ao pé disto) em certo tempo futuro. Agradece-se pois que a eventual manifestação de oposição ao facto preceda a prevaricação (que, no meu tempo imagético anacrónico, também tem regras de etiqueta, ora pois).
Etiquetas: interblogging... such a sad ménage
 Tudo é relativo, os nossos corpos apenas podem um tanto. Sabemo-lo, desgostamo-lo, a espaços, à exaustão, excepto se o confortável cinismo já nos atapetou o chão. Mas para quem reteve nas entranhas a porta aberta para o espanto, certas experiências subjectivas que nos devolvam os cumes de outras percepções tomam um carácter de vontade de dizer absoluto e espoletam expressões que reclamam da objectividade que na edificação de uma subjectividade se funda (e se pode entender e crer partilhado: o absoluto não pode ser enunciado sem cautelas epistémicas mesmo com toda a carne investida na sua dicção).
Tudo é relativo, os nossos corpos apenas podem um tanto. Sabemo-lo, desgostamo-lo, a espaços, à exaustão, excepto se o confortável cinismo já nos atapetou o chão. Mas para quem reteve nas entranhas a porta aberta para o espanto, certas experiências subjectivas que nos devolvam os cumes de outras percepções tomam um carácter de vontade de dizer absoluto e espoletam expressões que reclamam da objectividade que na edificação de uma subjectividade se funda (e se pode entender e crer partilhado: o absoluto não pode ser enunciado sem cautelas epistémicas mesmo com toda a carne investida na sua dicção).
Precisamente desse patamar, objectivo e desautinado, que reúne e transcende tais contrários, hoje, uma semana depois, ainda titubeante, vos digo: não se viveu sem se ter assistido in the flesh a recital a solo do Hammill. Três condições enunciadas, note-se bem (quatro, na verdade - é preciso tê-lo incorporado até às estruturas subatómicas para se perceber a dimensão disto, apercebi-me, quando alguém se riu numa fila atrás de mim do excesso que necessariamente envolve o estrépito gelado para o mistério da existência corporizado num vibrato agonizante).
Para esta experiência não há substitutos nem sucedâneos (bootlegs, DVDs ou CDs ao vivo - e isto não tem nada a ver - tendo tudo a ver - com uma das carreiras discográficas mais complexas que já se viu: isto, do que tentamos organizar umas palavras agora, respeita à carne absoluta). É escusado buscá-los, o cinismo iria larvar (acreditem em quem absolutamente vo-lo diz, quase cinicamente preparado que ia para um encontro simbólico com quem cria já ter incorporado nas suas possibilidades expressivas ao limite. Grato equívoco, grata dúvida, grata dedicação: mesmo a decair, fui - isto é uma lição).
Nada se lhe compara, no que é. Ninguém tem na voz cada nervo do ser e o faz ecoar; ninguém deposita a precisão de uma emoção em cada momento em que a enuncia; ninguém reinventa a cada segundo (isto é literal) o dizer de uma canção, que julgávamos já perfeitamente lapidada, de acordo com o ressentir absolutamente presente do seu âmago; ninguém transtornou a voz à expressão lancinante (no desespero, inquietude, resignação ou pacificação) de cada movimento da carne que sente. Só este homem. Só cara a cara. Só um piano. Só uma guitarra. Este homem, perturbante até na frágil compleição, na face da devastadora tempestade que incorpora e solta nos limites (porque há vários, do urro ao sussurro) do suportável pelo arcaboiço do corpo.
Este pedaço de cínico (eu) de uma só barbacã vo-lo testemunha e confessa, ainda desarmado, no que se chame espírito, pela mão inesperável do inaudito. Salve essa brecha. À cautela de categorias incomensuráveis, ou por réstia de pudor, só digo que não se descreve o que significa poder, por um instante (a latejar-me no corpo, na recorrência de novas formas, tudo o que tornava irracional essa esperançosa ideia), dar pleno sentido às palavras que ecoaram numa das poucas canções que eram menos meu património (preciosa ironia), e cuja memória, mesmo na constância da mesma danada conjuntura, na lonjura do tempo ainda me impele a reavivar:
no, I'll never find a better time to be alive than now.
Etiquetas: grafonola e ecos
 cindido,
no além que comporta
no aquém do que aspira
cindido,
no além que comporta
no aquém do que aspira
Etiquetas: grafonola e ecos
Uma noite, parando o carro no semáforo traiçoeiro da Praça de Espanha (Lisboa), passado poucos segundos ressinto violentamente o estrondo de um carro que colide com a traseira do dito que eu conduzia. Passados os segundos de me recompôr do susto imprevisto (nem um chiar de travões anunciou o embate) e averiguar da integridade de quem me acompanhava no lugar ingrato, reparo que a condutora do carro atrás não saíra do mesmo e o dito se tinha deslocado uns metros para trás - pelos dados referidos, iria certamente tão distraída que nem reparou na viatura parada à frente. A confirmar tal pressuposição, ao dirigir-me para a viatura perpetradora, começo a deparar-me através do filtro fusco do pára-brisas com uma senhora muito composta com esgar aterrorizado agarrada ao peito. Lentamente, acalmando-a, me aproximei, abri a porta e inquiri, francamente inquieto, da sua condição. Afligiam-na dores no peito, derivadas do puxão do cinto de segurança mas também do próprio susto do impacto que manifestamente ela não antecipou, indiciado pelo seu estado de pânico. Enquanto a acalmávamos, o que estava de facto a ter o efeito de minimizar as suas queixas, acautelávamos a necessidade de chamar uma ambulância, to be on the safe side, ao que quem me acompanhava se lembrou de perguntar se ela teria algum seguro de saúde para averiguar do seu leque de opções de cuidados para lá do ir para a urgência do hospital mais próximo. Ao que a senhora, ainda profundamente abalada, inquieta e dorida, responde automaticamente: «ah sim, ir às urgências não, não».
Quem é da Linha também há-de ser sempre da Linha?...
Etiquetas: interblogging... such a sad ménage
O único diferencial cultural entre agregados nacionais que alguma vez me fez soçobrar para a defesa da tese de um choque de civilizações foi o emprego (e a mera existência como objecto socialmente integrado nas estruturas espaciais e das práticas socio-corporais do quotidiano) do bidé.
Para que não haja dúvidas quanto à minha arregimentação, para todas as eventualidades derivadas de when the shit hits the fan, anuncio desde já que a minha civilização é a do bidé, dela faço estandarte e porto orgulho (ainda por cima do tipo higienista moralizante), e dele não abdico.
Negligenciado em certas patetas culturas de paranóicas derivações patriarcais (a cultura pode dar para isso: qual acumulação e progresso!) a abdicarem de atenta vigilância a meritória região de variegadas valências (não, não só as duas que pensais ó behaviouristas culturais - sejam elas quais forem, consoante o behaviourismo...), o imaculado traseiro, condição sine qua non do bem-estar civilizado, requer o seu repuxo.
Tenho dito.
Espero lesta polémica e, no mínimo, a embaixada da poluta Grã-Bretanha em polvorosa (também têm direito).
(That'll show Huntington...)
Etiquetas: à boleia
 que nos transcende.
que nos transcende.
Etiquetas: grafonola e ecos
Em poucos dias deparei em casa com as duas maiores (gordas, corpulentas, patudas, multi-colores) aranhas que vi na vida.
Há alguma epidemia de que não esteja a par? Já pensei em guardá-las num frasco para mostrar a especialista avisado. Ou estarei numa lista aracnídea de alvos a abater ? Seria bastante desagradável. É que o problema é igualmente a reacção de defesa. Comecei de há uns tempos a esta parte a ter grande restrição no abate indiscriminado de seres vivos que não me causem dano físico (vou abrindo excepções ocasionais para melgas, dada a condição parasitária). Mas estes exemplares andam a pôr em causa a minha determinação.
Sem dúvida que isto pode ser um escancarado teste moral. É essa aliás a cruel perversidade das sendas da virtude: só a partir do momento em que nos acometemos a um princípio é que a tergiversação ao mesmo se torna matéria de angústia moral e justificação racional (que soa sempre falha à fácil evocação retórica do imperativo). O desviante ocasional consciente assume sempre sobrepujante culpabilidade face ao constante desviante estrutural irreflexivo. Ora, não só esta disposição é a-problematicamente ínvia, como para este princípio desconheço teologia (os homicidas, por exemplo, têm a orientação moral bem mais facilitada). Pelo que, auto-infligido pelo meu bom comportamento (e duvido que os gajos do karma façam estas tortuosas contabilidades), mesmo na consciência da colocação de um teste moral, é certo, como sempre, que vou falhar. The nice way, though, tanto quanto se pode aliviar a consciência: pela sanita.
Etiquetas: phénomenologies du néant